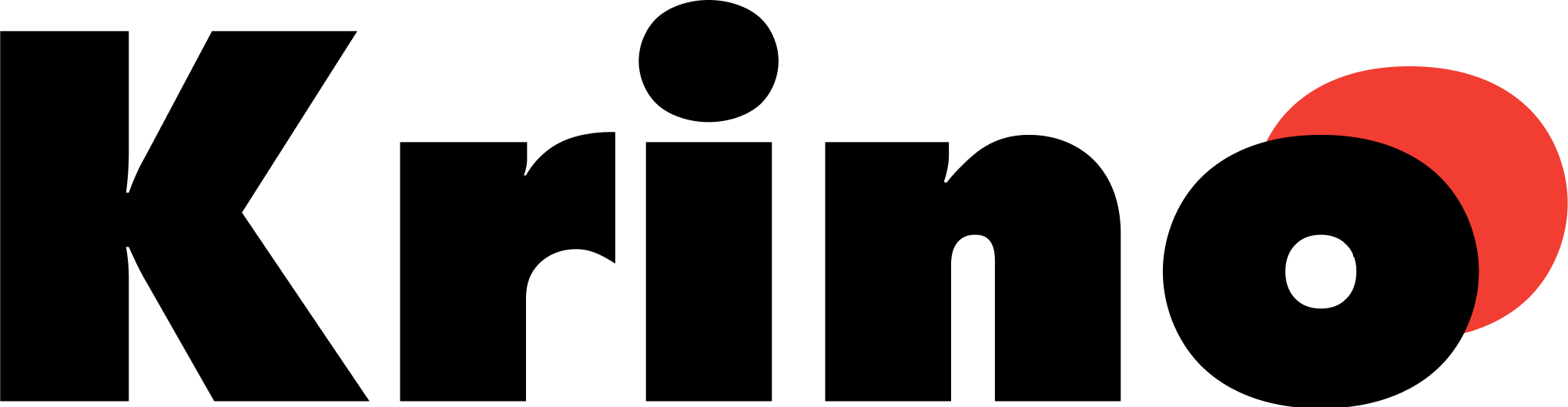Uma Lisboa vista através de um olhar microscópico, uma sequência azulada dos mais diversos detalhes de uma escultura assinada por Soares dos Reis, e o Mosteiro da Batalha impresso no alto contraste entre preto e branco. Encontramos estes elementos singulares nas obras do cineasta italiano Gianmarco Donaggio, respectivamente The Lisbon Trilogy (2021), Azul no Azul (2022) e, o mais recente, Alba Nera (2024), sendo estes dois últimos em parceria com o pintor português Nelson Ferreira. No último mês de janeiro, a Cinemateca Portuguesa foi palco do lançamento deste novo trabalho que mergulha na arquitetura de um dos patrimónios mundiais da UNESCO.
A partir de um olhar cronológico dessas três obras, a primeira realização de Gianmarco foi o curta-metragem The Lisbon Trilogy, que, como o título sugere, apresenta três fragmentos de sua visão sobre Lisboa enquanto estava em uma residência artística no país. Diferentemente das abordagens do cinema comercial, o filme oferece uma perspectiva não convencional da cidade, com imagens sendo expandidas a níveis microscópicos e revelando uma Lisboa que, até então, o espectador provavelmente não havia reparado. A areia, o mar e as roupas no varal dançam com maestria ao som de uma música pulsante, fisgando o público com sua relação orgânica.
A composição singular entre som e imagem chamou a atenção do pintor Nelson Ferreira, que se dedica ao ensino e à prática das artes em Londres e no seu país natal. Do encontro entre Itália e Portugal, surgiu a primeira parceria artística: o curta-metragem experimental Azul no Azul, feito a partir do trabalho de Nelson Ferreira para uma residência no Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado sobre “O Desterrado”, do artista Soares dos Reis. O filme explora detalhes através de close-ups que contrastam o estático da escultura com os movimentos da câmera. Há, mais uma vez, uma espécie de dança, desta vez conduzida pelo olhar do realizador sobre o objeto artístico. Sobretudo, a curta-metragem destaca-se pela presença marcante do azul, que transcende a mera função estética para dominar o ecrã nos seus mais variados tons.
A sessão culminou com o lançamento de Alba Nera, da dupla Donaggio-Ferreira, filmado no Mosteiro da Batalha. Descrever o filme apenas como uma exploração das nuances arquitetônicas seria simplório. Mais uma vez, a cor assume um papel central, e o contraste entre preto e branco amplifica a percepção magnânima dessa construção, que se torna tão fundamental quanto a construção. Donaggio vai além de uma representação visual do edifício, introduzindo pela primeira vez uma presença humana entre os três filmes. A leitura dos versos poéticos por esse homem envolve o espectador de forma profunda, transformando o filme em uma experiência imersiva e, praticamente, sensorial.
Fortes e marcantes, as obras da dupla apresentam uma potencialidade que permite estender-se para outras formas de arte, como foi o caso de Alba Nera, o qual tornou-se, também, um livro. Nadando contra o fluxo do cinema comercial, a parceria frutífera entre os artistas evoca sensações e faz um convite à contemplação num mundo cada vez mais veloz. Mergulhar no audiovisual de Gianmarco Donaggio e nas pinturas de Nelson Ferreira é como encontrar uma pausa necessária no frenético cotidiano.
A equipe do Krino entrevistou o realizador Gianmarco Donaggio durante o lançamento de Alba Nera.
Lílian Lopes: Primeiro de tudo, gostaria de agradecer pelo convite e começar perguntando: porquê cinema experimental? O que chama a sua atenção nessa forma?
Gianmarco Donaggio: Bem, para responder a essa questão preciso voltar ao motivo pelo qual faço qualquer coisa, que é encontrar o mundo de maneiras que são ou não prescritas para mim. Experimental é algo que na realidade não tem uma categorização, não se enquadra no gênero do cinema convencional. É basicamente, pelo menos no meu caso, prestar atenção ao meio e seguir o que o cinema pode oferecer, em vez de forçar uma ideia ou formato. Claro, eu poderia fazer isso com qualquer coisa, mas o cinema é o que me moveu, é com o que comecei e é com o que continuo. Houve momentos difíceis, como acontece na carreira de qualquer um, quando o mundo externo tenta te moldar. A experimentação é sempre uma forma de perguntar: “Como posso sair disso? O que posso ver através da câmera? O que ela pode me ensinar? O que ela me mostra que ainda não sei?”.
Acho que uma das coisas maravilhosas sobre o cinema experimental é a possibilidade de respeitar o intelecto e a subjetividade do público. Muitas vezes, quando apresento um projeto, recebo dez respostas diferentes. Isso não significa caos, porque está me direcionando de alguma forma, ainda é minha intimidade em algum ponto. Na trilogia, por exemplo, eu vi Lisboa da minha maneira, mas quando a apresentei, as pessoas perceberam nuances da cidade e práticas cinematográficas que eu nem poderia imaginar.
Amo essa possibilidade que a experimentação oferece: passar pelo meio, se perder nele e voltar com alguma coisa, talvez não uma resposta, mas com uma centelha para que outras pessoas também possam criar algo.
LL: Então achas que o cinema experimental te confere mais liberdade?
GD: Sim, de certa forma. Tenho totalmente mais liberdade porque não preciso conter minha visão dentro de um formato predeterminado. No entanto, eu diria que a parte difícil é encontrar um equilíbrio. A maneira como vejo essa questão de liberdade é como um caminho perigoso, porque vejo minha prática como a de um equilibrista sobre uma corda bamba, em que o equilíbrio é tudo. De um lado, você tem seu conhecimento; do outro, a história do cinema. E você precisa caminhar constantemente para manter-se nessa linha.
É bonito quando você está nesse equilíbrio, mas é muito fácil cair em uma liberdade que te faz perder a esperança na prática. Como Nelson mencionou, às vezes você se perde e precisa voltar para a linha. A dificuldade é nunca ir completamente para um dos dois pólos, nem se tornar estático, porque isso leva à repetição, e então a liberdade se perde completamente. Então sim, existe liberdade, mas também há uma prática em que você precisa administrar esse equilíbrio para alcançá-la.
LL: Você mencionou o Nelson. Ontem [noite do lançamento de Alba Nera] você disse que há um certo equilíbrio entre vocês, em que ele te puxa um pouco para uma abordagem mais clássica. Como é para você trabalhar com esse tipo de dicotomia?
GD: O mais interessante é que o Nelson confiou em mim e cheguei à conclusão de que isso é algo muito raro ao trabalhar com uma pessoa e um artista como ele. É um privilégio, sou extremamente sortudo, pois ele confia no meu processo. Temos nossas conversas, nossos debates, mas isso fica fora do trabalho. Respeitamos um ao outro o tempo todo. Admiro o que ele faz e ele gosta do que eu faço. Colaboramos muito bem juntos e estamos em mundos muito distantes. Nelson é um pintor clássico e eu sou um cineasta experimental e vanguardista. Para mim, essas coisas são muito, muito distantes. Normalmente, o que acontece é que pintores acabam documentados ou viram tema de documentários sobre seu trabalho. O que estamos fazendo é basicamente cruzar processos, e o que fiz até agora é tentar entrar no universo dele. Fico orbitando em torno da intuição inicial dele.
LL: Notei que o seu filme tem muito a ver com sensações que você quer evocar no público e, como disse uma mulher ao meu lado [no momento na de Q&A na noite do lançamento], The Lisbon Trilogy apresenta uma Lisboa diferente daquela que se vê no cinema comercial. Quais foram seus sentimentos ao chegar aqui e como decidiu retratá-los no filme, dando sua visão sobre Lisboa?
GD: A primeira coisa que essa cidade me fez sentir foi uma espécie de acolhimento através das suas paredes. Essa ideia vem de algo que Walter Benjamin escreveu no seu ensaio sobre Nápoles, no qual ele falava sobre como a cidade parece respirar, permitindo que você entre e saia através dessas paredes. Então foi um convite, eu simplesmente abri a porta de Lisboa e fui bem recebido. Nessas portas, paredes, rachaduras, em tudo, muitas coisas aconteceram. A princípio, era apenas um estado de espírito. Vim para uma residência artística com um projeto específico em mente, que é minha performance atual: Electricity. Mas durante os três meses de residência, não fiz nada desse projeto, porque a cidade me puxou para um caminho completamente diferente. Eu estava preparado mentalmente para me deixar levar, então confiei na cidade. Pensei: “ok, essa é a direção que você está me mostrando, vamos ver onde isso vai dar” e o resultado foi essa trilogia. É um pouco sobre eu sentir a cidade. O primeiro episódio é mais sobre mim. No segundo, já posso lembrar imediatamente que foi mais uma sensação relacionada às roupas penduradas. Nessa fase, eu já conhecia pessoas aqui, então era uma experiência emocional que também misturava influências culturais. Não era apenas sobre os muros; era sobre me envolver com a estrutura da cidade. E o último episódio, com a tempestade de areia, era realmente sobre abraçar a atmosfera daquele momento. Acho que a palavra principal para descrever os três filmes é “atmosfera”. O que esse projeto cria, e que para mim funciona melhor do que qualquer outra coisa, é essa possibilidade de entrar em um espaço sem nenhum conhecimento prévio, seja Lisboa ou outra cidade, e simplesmente estar ali, abraçando o que a câmera e os sons evocam.
LL: Você mencionou o som e isso foi algo que me chamou atenção. Você realmente trabalha o som nos seus filmes, eles dão ritmo e são únicos. Como é o seu processo para conceber o som dos filmes?
GD: Minha prática tem muita influência da performance, e acho que isso volta à questão anterior sobre minha divergência com o Nelson, porque eu não estou no estático — estou em completo movimento. A dança tem uma enorme influência no meu trabalho, embora eu não pratique. Estudei um pouco de coreografia na minha dissertação de mestrado, e isso é muito importante para mim. O movimento todo constroi uma harmonia que atravessa e se funde na atmosfera, tanto das imagens quanto dos sons, por isso preciso fazer isso eu mesmo. De uma forma ou de outra, tive que aprender a trabalhar com som, porque o processo de edição é um fluxo de ideias no qual as coisas aparecem e desaparecem. O som precisa ser constantemente ajustado para acompanhar a performance das imagens, ou vice-versa. As duas coisas são construídas juntas, é como um processo intuitivo, primeiro na mente, depois na câmera. Então eu aprendo com a câmera e ela vira edição. Na edição, tudo se junta. Quando começo a perceber o que fiz, dou ritmo a isso, e esse ritmo é o som da imagem. O processo é sempre conjunto. Nunca fiz um filme e depois compus a trilha, ou fiz uma música e depois criei o filme. É sempre um processo contínuo de adicionar e retirar, como se estivesse esculpindo algo. Em Alba Nera, o voice-over — que é o próprio livro — foi feito após o filme. Então tive que reeditá-lo, e isso ilustra exatamente o que estou dizendo. Aprendi algo com meu filme anterior, e Nelson nem tinha pensado nisso. Como o livro surgiu, decidi: “Ok, talvez seja hora de trazê-lo de volta e mudar o ritmo”.
LL: Em The Lisbon Trilogy, você trabalha com muitos elementos relacionados à natureza. Em Azul no Azul e Alba Nera, você apresenta outras formas artísticas, como pintura, escultura e arquitetura. Além disso, você mencionou que tem uma formação em filosofia. Como essas diversas formas de arte, a natureza e a filosofia influenciam o seu trabalho?
GD: Essa é uma pergunta complexa, porque tudo o que faço acaba influenciando meu trabalho. Por exemplo, Lisboa, na trilogia, foi a principal influência simplesmente por eu estar em Lisboa. Quando Nelson me apresenta suas pinturas e esculturas, isso se torna o primeiro elemento com o qual preciso lidar, é sempre sobre esse choque que eu encontro — seja com a natureza, com o trabalho do Nelson ou com qualquer outro elemento. Quando se trata de filosofia, essa é a parte mais difícil de administrar, é quase como se eu tivesse uma segunda personalidade. De um lado, tenho essa personalidade livre, que parece seguir o fluxo nos filmes. Por mais peculiar que possa parecer, tudo isso é, na verdade, fortemente influenciado teoricamente. Depois de finalizar os filmes, tendo a analisar teoricamente o que fiz, às vezes, é difícil mesclar esses dois mundos, mas também é algo muito bonito. Podemos até pensar em filosofia nos filmes, mas raramente pensamos no filme como uma filosofia em si, e é exatamente isso que estou tentando fazer, voltar ao público e à liberdade de interpretação. Essa era uma prática das vanguardas do início do século XX. Tanto os russos, como Eisenstein e Vertov, quanto os franceses, como Abel Gance e Jean Epstein — que é um dos meus favoritos — acreditavam que o cinema podia revelar algo sobre o mundo de forma única. Com o tempo, essa ideia perdeu força. A teoria do cinema tomou outros rumos, como o formalismo, a psicanálise, o realismo e depois os estruturalistas. Aos poucos, começaram a ridicularizar essas ideias de cinema como revelação. O que faltou perceber naquela época é que o cinema, por si só, não faz as pessoas pensarem automaticamente. Não é como um livro que se lê sozinho; é necessário estar consciente e ter uma bagagem cultural para que os pensamentos sejam provocados. Caso contrário, o cinema acaba se tornando apenas televisão, influenciando pessoas a fazerem algo sem reflexão, mas, se o público estiver aberto para ir além do convencional, o cinema pode levar a lugares jamais imaginados. É por isso que amo a dança, quando você vê uma performance, não precisa pensar o tempo todo em um conceito: “Por que esse corpo está se movendo? O que isso significa?” É mais uma questão de percepção e sentimento. Espero que meus filmes possam, de alguma forma, trazer de volta essa potencialidade do cinema, provocando novas formas de ver o mundo — até eu mesmo gosto de ouvir isso vindo do público.
LL: O Mosteiro da Batalha tem uma enorme importância para o país. Gostaria de saber como foi trabalhar não apenas nesse lugar, mas também com esse lugar. Houve desafios? Como foi o processo?
GD: Em termos práticos, o maior desafio foi o pouco tempo que tivemos, porque estivemos lá talvez por um dia ou algumas noites. Nelson ficou por um período muito maior, mas a limitação não foi por causa do mosteiro, e sim devido às nossas agendas. Podíamos filmar apenas naquele momento específico em que Nelson estava disponível e eu conseguia ir até lá para trabalhar. Além disso, não estava tão interessado em trabalhar exclusivamente com o Mosteiro. Por isso, o filme acabou sendo bem mais amplo. No final, eu queria incluir muito mais essa ideia de revelar algo através do preto, da aparência ou até do vazio. Nelson estava realmente focado no Mosteiro, mas para mim, a questão era essa figura demiúrgica — essa ideia de “por que existe algo em vez de nada? Por que existe uma imagem? Quem é o criador? Sou eu? É o público? É a pessoa no filme?”. Por isso, quis me afastar um pouco da ideia de filmar apenas o Mosteiro, especialmente porque podíamos explorar outras abordagens. Essa questão, aliás, se conecta com o outro filme [Azul no Azul] em que realmente tivemos que trabalhar com uma escultura de jardim. Mas, nesse caso, o Mosteiro foi apenas um terço do foco, não a totalidade.
LL: Por fim, quais são as perspectivas para você no futuro e para continuar trabalhando com Nelson? Quais são seus próximos projetos?
GD: Pessoalmente, no momento estou muito focado em performances, que não são tão destes trabalhos, a diferença é que posso fazer isso em tempo real, com som também. É um projeto que, felizmente, continua vivo e já está acontecendo há um bom tempo. Quero me concentrar em melhorá-lo, porque entrei nessa ideia de cinema performático sem muito conhecimento prévio. Estou construindo meu conhecimento conforme avanço, então essa é minha principal prioridade no momento. Paralelamente, estou desenvolvendo outros projetos cinematográficos. Com Nelson, em particular, estamos em um processo de reflexão sobre várias ideias que, na minha opinião, serão mais complexas do que o que vimos ontem. De forma simples, mas complexas. Queremos talvez trabalhar com formatos mais longos ou até formatos de instalação. Se puder revelar um pequeno detalhe, diria que um dos projetos provavelmente envolverá algo relacionado a ouro. Nelson agora é um mestre em douramento, uma técnica artesanal muito difícil de aprender, e ele é excelente nisso. Estamos pensando em trabalhar com isso. Também estamos considerando trabalhar com ícones ortodoxos. Nelson tem trabalhado bastante, está ensinando e preparando material para uma exposição própria. Temos ainda alguns projetos em Portugal, mas são coisas completamente abstratas por enquanto. Pessoalmente, estou muito animado. Amo fazer filmes nesses países — é simplesmente incrível.
Lílian Lopes