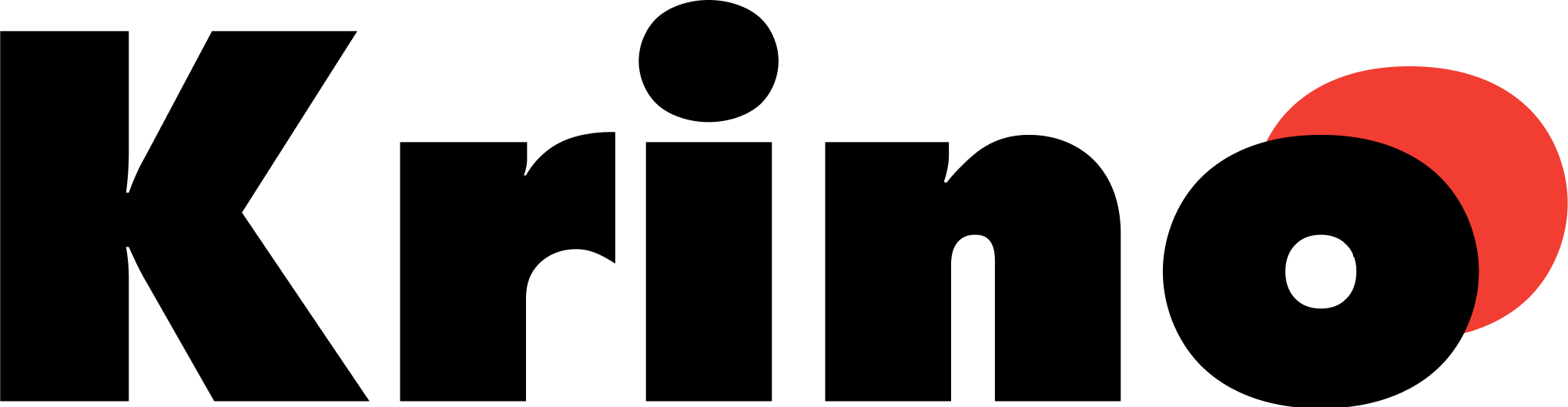« Ela não notou nada e, por essa razão, acreditou que também não tinha sido notada.
Mantive-me à distância e absorvi a sua imagem.» – Søren Kierkegaard, in The Seducer’s Diary
1
A mulher, em Nosferatu/Count Orlok e Drácula2, tende a ser, inexoravelmente, relegada para segundo plano, o que se explica pela forte agenda da figura masculina, vampírica e despótica. Com Bram Stoker’s Dracula (Coppola, 1992) a oferecer uma idiossincrasia própria – assoberbado por Eros e Thanatos na diegese romântica e a hospedar o consentimento feminino -, é astuciosa a estrutura de aliciamento que sustenta a prosa nosferatiana nas obras Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (Murnau, 1922), Nosferatu: Phantom der Nacht (Herzog, 1979) e Nosferatu (Eggers, 2024)3. Quando Eggers desfaz a narrativa, ao introduzir o claro chamamento feminino, ainda que involuntário, impõe-se uma ponderação sobre quem configura, em boa verdade, o sedutor primário, e potencia o vínculo entre a mulher e o transcendente. Com efeito, se quem concebe o plano (ou seguirá só o seu destino?4), o erudito da imortalidade e ávido por transmiti-la ao próximo – e que altruísmo este! – é o usurpador de sangue, de lábios encarnados e língua permissiva, em pele descolorada e em declínio, é, no entanto, mais do que sabido: sem o comprometimento (ou rogo acidental?) da bela rapariga, não há “edifícios medonhos”, não há “convite à morte” nem “mãos entrevadas”, os ratos não roem o edifício5. Seja tentado por uma imagem ou despertado por um apelo, Nosferatu, antes adormecido na pestilência, percorre terras, mares e véus de feminilidade. Posto isto, acresce que a tónica incide, não só na parceira de e para toda a eternidade6, como também nas mulheres que a rodeiam (compelidas, pelo fado, para o terror da congénere que se arriscaram a proteger7). Evoca-se ainda a presença provocatória e pujante das noivas de Drácula, adaptada por Coppola do livro de Bram Stoker – “In the moonlight opposite me were three young women, ladies by their dress and manner (…) I felt in my heart a wicked, burning desire that they would kiss me with those red lips.”8.

A expectativa, transversal às obras é, por natureza, dependente e impotente; transforma-se em agonia e êxtase, e é na entrada em cena do fardo visceral e sexual, que a donzela se vai diferenciando de filme para filme. Dir-se-ia até que, da expectativa ao desespero, as vítimas que aguardam e se movem como marionetas do diário sanguinário, comungam do mesmo estado de espírito e de acções idênticas. “He’s coming” – ela pressagia a vinda de um Outro que não o objecto da esperança, pois a “(…) esperança refere-se à possibilidade do bem e, portanto, ao que é eterno!”9. Contrariamente ao que somos levados a apreender, a espera pelo eterno é a espera de Hutter/Harker10 (não a expectativa do mal que se aproxima). A espera pelo bem é a espera pelo que é eterno, visto que Kierkegaard transporta a eternidade para a mesma zona onde habita o conceito de graça11, independente do tempo.
Seguindo Kierkegaard, “agarrar-se com expectativa à possibilidade do bem é esperar, o que, por este motivo, não pode consistir numa expectativa temporal, mas numa esperança eterna. Agarrar-se com expectativa à possibilidade do mal é temer. Mas quer aquele que espera, quer aquele que teme está expectante.”(Kierkegaard, 1847/1949, p. 202, tradução livre). A cobiçada por Nosferatu abraça a esperança na vinda do marido, “a wish, a longing, a yearning expectation”(ibid.), inexistente como tal (em sentido estrito, expectativa como esperança) no medo que corrompe o seu interior perante a expectativa do desconhecido.
O expressionismo de Murnau brinda-nos com uma Ellen prenunciadora de desgraça – “Why did you kill them… the lovely flowers…?” (elemento que, aliás, também pesa nas mulheres de Herzog e Eggers). Ellen integra um misto de aliciamento e indiferença: a inefabilidade da mulher, no seu leito, desamparada mas em controlo, será o eclipse de Orlok, assumindo, num twist nosferatiano, a representação de vítima. Em construção gradativa, Ellen fortifica a sua individualidade: de uma aparente incapacidade para suportar fracassos e cataclismos, ela transfigura-se num exemplo de auto-imolação, aglomerando os papéis de mártir e anjo redentor. Surge inegável, mais nuns trabalhos do que noutros, a liderança da donzela, em perigo mas gradualmente astuta: se no vampiro mora a obsessão pela juventude eterna, semelhante à de Dorian Gray12, na mulher perseguida aflora a perseverança para salvar a Humanidade. Há poder maior do que este?

Na ocasião da exposição «Vampires» de La Cinémathèque française, Werner Herzog, em entrevista sobre a sua homenagem a Murnau, fez notar: “(…) o vampiro de Murnau é uma espécie de louva-a-Deus desprovido de alma e humanidade, enquanto o meu tem sentimentos: ele anseia por amor, anseia pela companhia dos homens, anseia por compartilhar emoções humanas.”13 Estas palavras despertam-nos para a mescla de assombração e aproximação apaixonada: dominador mas estranhamente submisso, o Conde de Herzog assume um olhar relutante, infundindo a imagem de uma individualidade insegura e desconhecedora do que o futuro reserva à sua condição. Mesmo suspeitando-se aqui, em todo o caso, de uma fachada para lograr seduzir, a ordem simbólica é banhada pela virtude de Lucy, que lhe é natural. Aliás, Baudrillard, referindo-se ao sedutor, conclui: “a sua estratégia, intenção e destino são uma resposta à graça e sedução da jovem.” (tradução livre).
A disparidade dos vampiros de Murnau e Herzog vai implicar, na invasão do corpo e alma femininos, duas receptividades não totalmente discordantes, mas em que a ferocidade é aligeirada no segundo filme: se Ellen (de Murnau) é portadora de uma firmeza que responde ao desiderato implacável daquele que é temido, Lucy (de Herzog), serva de emoções conturbadas, amacia a sua obstinação (ou fá-lo-emos nós?), confrontada com a enigmática vulnerabilidade (aparente e premeditada?) do invasor. Acometida por este efeito contraditório – a mordida menos brusca, a repugnância que atrai e estimula o estremecimento -, a mulher, em Herzog, vai-se despojando, em turbulência, do seu manto de resistência ao terror, firmando com o seu perseguidor um nexo ambíguo de ostracização e êxtase.
Obsessão, peste, decadência e morte são, quer em Murnau quer em Herzog, as motivações do agressor. Em nenhuma das adaptações, há o monopólio romântico da obra de 1992. Com a “mulher de Coppola”, a carga sensitiva infiltra-se na diegese, sendo Mina a mais subtil e progressiva na libertação corpórea – aqui reside o encantamento da sedução, pura, carecida de investimento libidinal (Baudrillard, 1979). Pese embora o acento poético desta construção, esta mulher que se apropria, no presente, dos pensamentos de Drácula, é seduzida como mais nenhuma outra; de todos os arquétipos femininos, é aquele que realmente sente o Outro – besta que, afinal, cede ao amor incondicional – e renuncia ao mundo físico.


Há uma história que se difunde (a rebelião do príncipe das trevas contra o divino e a rendição ao acto de vingança), a busca pelo objecto de desejo, oriundo da ordem simbólica ou narrativa de combate em território otomano – “(…) l’inconscient, c’est le discours de l’Autre”14 – um cerco determinado para reconduzir esse objecto às memórias da tragédia, e a consumação da união dos dois corpos (no lugar vampírico, esse encerramento é o evento em que um se satisfaz com o sangue do outro). De Coppola, nasce uma pintura de devaneio e atracção, e contorna-se a repressão sexual da era vitoriana, salvaguardada na literatura por Stoker. Lucy, cúmplice de Mina na exploração do sensível, incorpora mais luxúria que fascínio e provoca a clivagem entre a pureza vitoriana e a prosa feminista.
“O sedutor, por si mesmo, não é nada; a sedução é inteiramente originada pela rapariga” (Baudrillard, 1979, tradução livre). Mas como, no complexo vampírico? De início, sem ela o adivinhar: a projecção do “sinal involuntário, o gesto (que) não parece fazer parte de uma estratégia, nem sequer de um ardil inconsciente” (Baudrillard, 1979, tradução livre), os modos sem intenção, a graça sem calculismo. Mais tarde, já consciente do poder que comporta, luta pela sua emancipação, aprende a movimentar-se, a engendrar, a suscitar reacções; trai, ataca, morde e extermina; oferece-se, evade-se, acaricia e protege. A mulher decide, a mulher expressa-se; sente-se assacada e um ser inconstante – “Jonathan, what have I done to you?”. A mulher reina, a mulher possui: Harker é espoletado de força anímica diante das escravas de Drácula (estas situadas para lá da sedução e comandadas por desejo). Há uma metamorfose do conceito de sedução: a mulher que seduz inconscientemente torna-se premeditada e sagaz: será Nosferatu, no fim dos seus dias, o mártir da mulher nietzschiana?
“The Light of all lights” alberga vários paradoxos e é vítima de uma batalha entre o Bem e o Mal: arrebatadora na sua luminosidade, cede ao negrume que a consome até ao final; sem demitir-se do casamento marcado, é fiel em espírito ao seu “sweet prince” – “he is always in my thoughts”; ao descobrir ter sido o príncipe a massacrar Lucy, não substitui amor por ódio. E o clímax reside na escolha da vida eterna, o desprezo de tudo o que é deste tempo e espaço – “take me away from all this death”.

Do filme de 1922 até ao de 2024, atesta-se um crescendo pulsional (sem necessária correspondência com a sedução), embora sugado de química e desconectado (propositadamente?) no trabalho de Eggers. Se em Coppola, existe um sinalagma de arrebatamento na convivência entre a mulher e o transcendente, em Eggers falha o encanto que na sedução impera. Com efeito, o último tratamento que o cinema faz de Orlok denuncia a derradeira escolha da mulher: no seu âmago, não é o Outro que ela escolhe; ela só o acolhe para salvar os seus. Thanatos e Eros não são esquecidos, mas não se reúnem na esperada dualidade romântica: o perecimento recai sobre os decisores, por amor de Ellen ao homem terreno e a toda a Humanidade: não existe afecto possível pela criatura que abusa, coage e responde a um apelo que não lhe foi destinado. Enquanto nas narrativas que lhe antecedem, o significado de sedução feminina se imiscui nas dinâmicas relacionais – “a truth inscribed in women’s body”, “a girl’s natural power” (Baudrillard, 1979) -, introduz-se na diegese eggeriana um chamamento, caindo a mulher em pleno erro quanto à entidade que está a invocar. A inocente não se limita a aparecer no mundo das trevas, por azar ou mão do desígnio; ela agora intervém – ainda que equivocada -, atrai a catástrofe para a sua paz e, como forma de redenção, premedita o seu sacrifício.
Perto ou longe,
em movimento ou inerte, ver-te-ei um dia
Mesmo eu não querendo?
Em desassossego, sim
Amar-te-ei um dia.
* O presente texto encontra-se escrito ao abrigo do Antigo Acordo Ortográfico.
Sofia de Melo Esteves
[Foto em destaque: Nosferatu, de Robert Eggers © Direitos Reservados]
- Tradução livre. ↩︎
- Interessante e base de cogitação a ideia “(…) de que Drácula é o vampiro vivo e Orlok é o seu cadáver reanimado: fracção feita de uma alma e dois corpos (…)” Soares, D. (2009). A Putrefacção Inevitável – Subsídio para uma Ontologia do Vampiro (ponderando Nosferatu de Friedrich W. Murnau. In Fischer, Claudia J. (Coord.). Nosferatu – 100 Anos de Terror (p. 58). Edições Húmus. ↩︎
- Os escolhidos para o texto, sem prejuízo de outras obras realizadas no século XX em que a personagem faz a sua aparição. ↩︎
- Na sedução, não se trata de estratégia, mas destino. Baudrillard, J. (1979). De la Seduction.Paris. Galilée.
↩︎ - Andrade, C.D. (2012). José. Companhia das Letras. ↩︎
- Ellen, em Murnau; Lucy, em Herzog; Mina, em Coppola; Ellen, em Eggers. ↩︎
- Ruth, Mina, Lucy e Anna Harding, respectivamente face à nota anterior. ↩︎
- Jonathan em Stoker, B. (1993). Dracula. Wordsworth Editions. ↩︎
- Kierkegaard, S. [1847] 1949, p.203. Works of Love. D. F. Swenson & L. M. Swenson (transl.). Princeton/ New Jersey: Princeton University Press. Tradução livre. ↩︎
- Hutter, em Murnau e Eggers; Harker, em Herzog e Coppola. ↩︎
- Whittaker, J.H. (2000). Kant and Kierkegaard on Eternal Life. In Phillips, D.Z., Tessin, T. (eds) Kant and Kierkegaard on Religion. Claremont Studies in the Philosophy of Religion. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1007/978-1-349-62906-0_9. ↩︎
- Mandico, B. (2019), p.228. In Sánchez, M. & Raposo, P. (Coord.). Vampires – Catalogue de l’exposition à Cinémathèque Française. Graphicom. Tradução livre. ↩︎
- Herzog, W. (2019), p.73. In Sánchez, M. & Raposo, P. (Coord.). Vampires – Catalogue de l’exposition à Cinémathèque Française. Graphicom. Tradução livre. ↩︎
- Lacan, J. (1966) Écrits. p. 16. Paris: Seuil. ↩︎